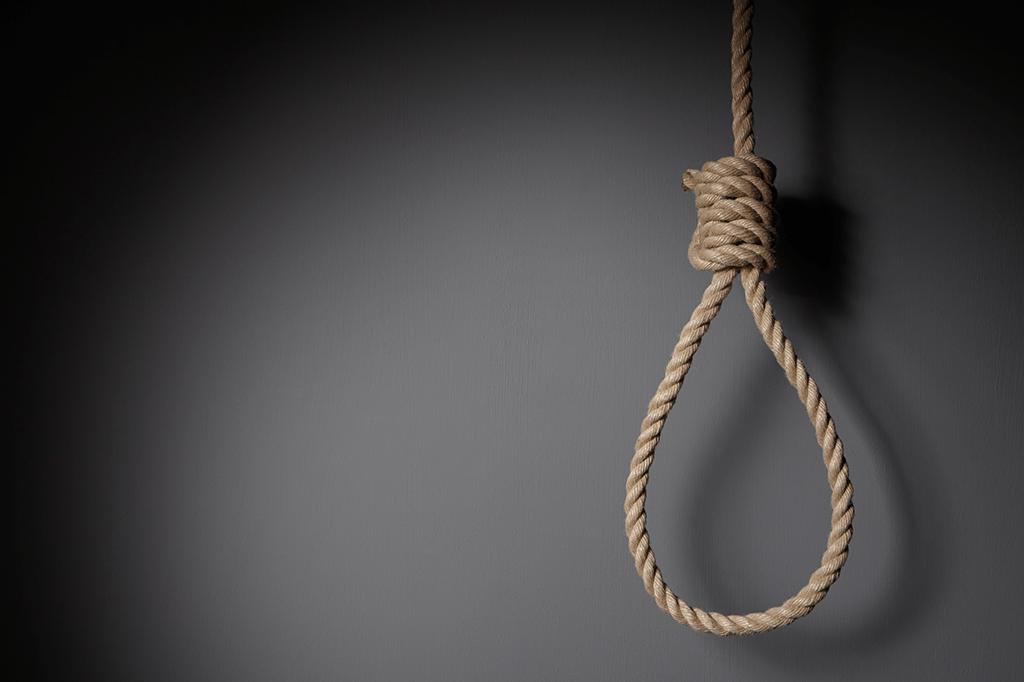
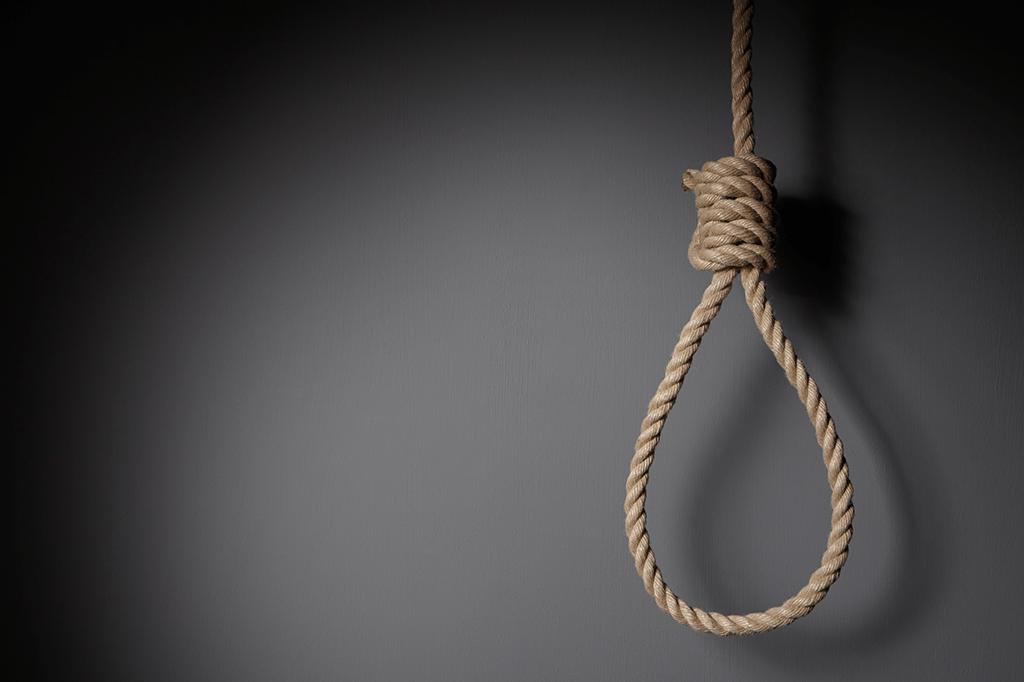
Os institutos e ONG’s relacionados à saúde seguem a mesma direção da OMS e dos dicionários para definição do suicídio: “ato ou efeito de suicidar-se”, “ato intencional de matar a si mesmo” e até definições em sentido figurado (nome dado pelo próprio dicionário): “desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo, ou por falta de discernimento, de previdência”.
As estatísticas sobre suicídio são precárias e pouco confiáveis. A OMS declara receber regularmente dados fidedignos de 60 países filiados, enquanto outros cerca de 110 países simplesmente não atualizam seus dados, ou não levam a sério políticas e campanhas de prevenção, ou enviam dados defasados. É exatamente nestes “outros” países que acontecem aproximadamente 80% dos suicídios do planeta.
A partir disto, estima-se que 800 mil pessoas morram por suicídio ao ano, uma média de 1 suicídio praticado a cada 40 segundos.
Números à parte, é preciso perguntar: Como nós pensamos o suicídio?
Diferentes áreas da psicologia e da psiquiatria vêm tratando há décadas o suicídio como consequência de distúrbios como esquizofrenia e depressão. Se por um lado há estudos associando depressão e suicídio, é preciso salientar que nem toda depressão é biológica; e por mais que haja estudos avançados em diferentes países quanto à esquizofrenia, o que se sabe não é o suficiente para uma conclusão sobre a relação patologia – fatores de risco.
Historicamente, os povos tratam o corpo do suicida diferentemente dos demais mortos. Corpos mutilados, enterros em locais distantes, proibições de menções em cultos religiosos, etc. Esta herança cultural milenar nos trás reflexos. Hoje em dia, não agimos muito diferente de nossos antepassados: saudamos alguém que luta bravamente contra um câncer e as dores da quimioterapia, mesmo que perca a batalha; mas reprovamos, ou, quando muito, sentimos “pena” do suicida e/ou de sua família.
Mesmo entre os suicídios há diferenciações. Àqueles suicídios que parecem valorizar a vida, glórias póstumas são reservadas. Por exemplo, um soldado numa situação de guerra que fica para trás como isca para o inimigo apenas para que seus companheiros tenham chance de escapar, certamente terá honrarias militares em seu funeral. Não será o caso do seu colega que der cabo da própria vida por algum outro método.
Faço-me valer das palavras do filósofo Martin Heidegger quando disse haver “uma ressonância de fundo […] com a própria história do modo […] de colocação dessa questão”.
“O mundo não é algo pronto, uma coisa já feita; ele se compõe no interesse de cada visão (circunvisão). Uma pedra, por exemplo, na visão de um pedreiro, é para construir; já para o geólogo, ela é para estudar; ao pintor, ela é para pintar e ao escultor, é para esculpir; à criança, pedra é para brincar e ao minerador, ela é para negociar… – em cada um desses exemplos, de acordo com o interesse que abre a perspectiva, a circunvisão que estrutura as conexões significativas, pedra ganha um sentido diferente: lajota, minério, cor, formas, brinquedo, mercadoria… Mas, o que é a pedra ela mesma?”
– Fernando Pessoa
Nossa tendência a buscar definições gerais e normativas nos faz cair em um grande erro. Não há padrão de suicídio. Não há “perfil” de suicida ou “causas” comuns identificáveis.
Nos cabe perguntar: de que serve e o que é o suicídio para um doente com uma doença incurável? Para quem está em desonra? Para aquele no alto de um edifício em chamas? Para aquela pessoa que perdeu o cônjuge, o filho ou o namorado, para quem perdeu sua fortuna, para aquele que passará o resto de sua vida sobre uma cama devido a um acidente ou doença? Para aquele cuja vida não diz mais nada ou nunca disse, para quem morre de overdose, para o que tenta um recorde num salto de paraquedas, num mergulho ou numa queda livre? Para a mãe que decide seguir com a gravidez contrária a recomendação médica, para aquele soldado que decide encarar um tanque de guerra num país estrangeiro? E para quem acompanha estas pessoas, e para nós que estamos lendo?